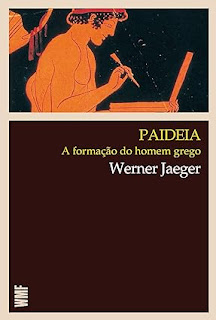|
Astrônomo Copérnico, ou conversa com Deus -
Jan Alojzy Matejko - 1872 |
Texto retirado da Introdução do livro Os Lusíadas - vol. I Comentários de Francisco de Sales Lencastre, edição de Renan Santos. Editora Concreta, 2018.
IV. COSMOGRAFIA
Para complemento da interpretação dos Lusíadas, é indispensável proporcionar aos indoutos algumas breves noções do sistema cosmográfico exposto pelo poeta, as quais não poderiam caber em notas de cada estância. Às vezes exprime-se Camões na linguagem mitológica e até na linguagem da humanidade primitiva, cujas idéias sobre a forma do universo eram as duma criança ignorante. [8]
“O céu parece uma abóbada azul posta em cima da Terra chata e circular. Vemo-nos no meio deste disco da Terra. Assim supõem os povos antes de terem viajado. Cada um deles se julga no centro do mundo. A que distância chega o céu ao horizonte? A resposta é vaga, porque, para qualquer lado que se caminhe, não se chega a esse limite aparente. E a própria Terra onde pousa? É o que não se sabe, e ninguém ousa perguntá-lo; supõe-se primeiramente que ela é infinita em profundidade.
“Depois, vendo-se que o Sol, a Lua e as estrelas se levantam no horizonte, passam por cima das nossas cabeças, vão mergulhar no lado oposto e tornam a aparecer no dia seguinte outra vez no Oriente, sente-se que esses astros têm necessariamente uma passagem por baixo da Terra. Supõe-se então que esta não tem raízes infinitas, mas que é sustentada sobre montanhas ou colunas, entre as quais passam os astros.” [9]
Homero (séc. IX a.C.) afirmava que a Terra era um disco rodeado pelo Oceano e coberto por uma abóbada, debaixo da qual os astros do dia e da noite giravam sobre carros. A escola de Pitágoras, na antiga Grécia (séc. VI a.C.), foi a primeira que professou a idéia da esfericidade do globo terrestre.
No Canto X finge o poeta que a deusa Tétis, na Ilha dos Amores, está mostrando a Vasco da Gama um globo translúcido, que se sustenta no ar e que representa a estrutura do universo conforme a astronomia do tempo de Ptolomeu (séc. II d.C.).
Vinte nove anos antes da publicação dos Lusíadas, já fora impressa (1543) a obra de Copérnico – astrônomo polaco, fundador da astronomia moderna; mas adiante se dirá o motivo provável do ter adotado o poeta, na sua descrição cosmográfica, as antigas teorias.
Agora expliquemos, para inteligência do texto, qual era o sistema chamado de ptolomaico, e como se fundou.
Formada a idéia de que a abóbada celeste girava em volta de nós em 24 horas e de que as estrelas estavam aderentes a essa abóbada – que se supunha sólida –, admitia-se que a Terra era um globo – o qual, sem apoio algum, pairava no meio do universo – e que a esfera celeste o envolvia completamente.
Este sistema de aparências era consolidado pelas observações dos navios no mar, as quais confirmam ser esférica a Terra, visto que as montanhas vão desaparecendo pela parte inferior à proporção do afastamento.
“A observação das estrelas que descem para baixo do horizonte ao norte, aparecendo outras diferentes ao sul à proporção que o viajante vai caminhando das nossas latitudes para o equador; e a observação da sombra da Terra – que se desenha em círculo negro sobre a Lua eclipsada – acrescentam novas confirmações à idéia de que habitamos um globo colocado no meio da esfera estrelada.
“Nota-se mais tarde que alguns astros se deslocam entre as estrelas. O primeiro em que se notou o deslocamento foi Vênus – a radiante estrela da tarde e da manhã –, cuja mudança de sítio é sensível de dia para dia, pois umas vezes aparece depois do Sol posto, outras vezes precede o nascer do Sol.
“O segundo astro errante que se notou foi o brilhante Júpiter, que faz lentamente a volta do céu em doze anos.
“Observou-se depois um terceiro astro errante, com menos brilho do que os dois precedentes, mas às vezes muito rutilante: Marte, de irradiação avermelhada, que faz o giro do céu em dois anos.
“Depois um quarto: Saturno, que se move através da esfera celeste com tal lentidão, que emprega não menos de 30 anos em percorrer a sua órbita.
“Mais tarde notou-se ainda um quinto astro móvel: Mercúrio, que ora aparece de tarde a Oeste, ora de manhã a Leste, da mesma maneira que Vênus – mas menos brilhante –, e que se afasta menos do Sol; por isso mais difícil de se distinguir e reconhecer.
“Estes astros foram denominados planetas, vocábulo que significa ‘errantes’ – por oposição às outras estrelas (denominadas fixas, por se conservarem sempre no mesmo lugar respectivo da abóbada celeste).
“Em conseqüência de aparecer o Sol todas as manhãs mais tardiamente do que as estrelas e de não voltar ao mesmo ponto do céu senão depois de 365 dias e 6 horas, supunha-se que ele estava adstrito a um círculo distinto da esfera estrelada, e dentro desta se movia de leste para oeste em um ano.
“A Lua – executando uma revolução análoga em 27 dias e quase 8 horas – supuseram-na adstrita a um círculo colocado mais próximo da Terra e girando nesse círculo.
“A combinação deste movimento com o do Sol dava conta da série de fases lunares, que se realizam em 29 dias e meio. A mais destes dois círculos (do Sol e Lua) acrescentavam-se cinco para os cinco planetas que ficam nomeados, o que perfazia ao todo sete círculos (sete céus) sucessivos a partir da Terra para o céu, por esta ordem:
1º, da Lua (com um movimento de 27 dias);
2º, de Mercúrio;
3º, de Vênus, que tem freqüentemente mudado de posição;
4º, do Sol (365 dias);
5º, de Marte (2 anos);
6º, de Júpiter (12 anos);
7º, de Saturno (30 anos).
Superior a estes sete céus estava o 8º – o das estrelas fixas.
“Esta representação do universo, esta constituição do mundo físico (a etimologia grega da palavra sistema quer dizer “constituição”) representava a natureza terrestre e celeste, tal como parece à vista, e correspondia completamente ao testemunho dos olhos. Facilmente se concebe que diferentes povos – em separado – tivessem chegado a formar do mundo a mesma imagem geral e que a ciência astronômica – baseada sobre o estudo de observação de muitos séculos – tivesse erigido este conjunto em sistema absoluto, transmitindo-se, de geração para geração, duns povos para outros povos. Deste modo foi comunicado da Ásia oriental – berço da história humana – à China para leste; e da Caldéia ao Egito para sudoeste. Na seqüência dos séculos, a Grécia inteligente e artística, tendo chegado a elevado grau de esplendor, adotou do Egito os mesmos princípios, desenvolvendo-os e completando-os com as próprias observações. Dessa nação – ilustrada pelos monumentos gigantescos e pelas altas pirâmides – recebeu a Judéia também o mesmo sistema astronômico, do qual Moisés e Jó nos guardaram fragmentos – do mesmo modo que Hesíodo e Homero entre os gregos.
“O astrônomo cujos estudos mais contribuíram para estabelecer em sólida base o sistema das aparências foi Hiparco (séc. I a.C.). As suas observações ainda hoje prestam grande auxílio, o que não é para se admirar, quando se reflete que uma observação bem feita serve à astronomia moderna fundada na realidade, da mesma sorte que à astronomia antiga fundada sobre as aparências. A esse astrônomo se deve o ter verificado que o Sol não está, em cada ano, sobre o mesmo ponto do céu no momento do equinócio da primavera, mas que recua sucessivamente sob as estrelas: as que se vêem ao Sul, por exemplo, em determinado instante, não se vêem exatamente sobre o mesmo lugar no ano seguinte em igual instante; do mesmo modo vemos também as do Norte deslocarem-se, de sorte que o céu estrelado executa uma revolução completa calculada em 25.870 anos.
“Ao movimento da Terra é hoje atribuída esta grande revolução do céu – chamada ‘precessão dos equinócios’ –, que se supunha ser efetuada pela própria abóbada estrelada; e esse movimento secular é devido à atração do mar e do Sol sobre a protuberância equatorial do nosso globo. Deste modo as observações, sobre as quais se tinha estabelecido o sistema da imobilidade da Terra e do movimento dos céus, servem hoje para a teoria do movimento da Terra.
“Aristóteles (séc. IV a.C.) expusera e tentara demonstrar solidamente o sistema das aparências. O ilustre preceptor de Alexandre consagrou a vida a escrever uma enciclopédia dos conhecimentos humanos, na qual a astronomia ocupava o primeiro lugar.
“Até o século XVI, a Europa – ou para melhor dizer, as corporações de ensino –, reconhecendo em Aristóteles [10] o grande mestre, não quiseram admitir senão o que estava escrito nas suas obras; e ele tinha sustentado:
1º Que a Terra se conservava imóvel no centro do Universo;
2º Que o movimento de todas as esferas celestes procedia de origem inesgotável, inerente à própria essência do céu mais alto, designado pelo nome de Primeiro móbil;
3º Que, para além das estrelas fixas e do Primeiro móbil, estava a última e mais vasta esfera, que encerrava todas as outras, chamada Empíreo;
4º Que o Universo tinha portanto um limite: era verdadeiramente fechado pela última esfera imensa, além da qual não existia mais nada.
“Esta representação do Universo fez objeto de livro especial – o mais venerado dos tratados de astronomia –, intitulado Almagesto (vocábulo que quer dizer “o grande”) devido a Cláudio Ptolomeu. Este geógrafo-astrônomo coligiu toda a astronomia antiga (completada pelos trabalhos de Hiparco) e depois da sua obra – escrita no século II da nossa era – designou-se sob o seu próprio nome o antigo sistema do mundo, sob a denominação de Sistema de Ptolomeu.
“Os sucessores de Ptolomeu tiveram, como artigo de fé, a crença – aliás tão natural, aparentemente – da imobilidade da Terra no meio do universo. Tudo estava classificado no seu lugar e regrado para toda a duração do mundo. Dois elementos, a terra e a água, eram distinguidos cá em baixo: a terra, mais pesada, formava a base; a água do oceano e dos rios flutuava à superfície. Um terceiro elemento, mais leve do que os dois primeiros, envolvia o globo: era o ar ou a atmosfera. Por cima do ar, um quarto elemento, o fogo ou éter, mais leve do que os quatro, formava uma zona superior à atmosfera, e nele se acendiam os meteoros. Por cima vinham ainda os círculos ou orbes celestes, as órbitas dos planetas – na ordem já indicada. Para além desses sete círculos, estava colocada a esfera das estrelas fixas, que formava o oitavo céu. O décimo era o Empíreo, habitação da Divindade. Todo este edifício se supunha ser construído duma substância transparente, comparável a gelo ou cristal de rocha. Alguns espíritos superiores (Platão [11], por exemplo) não admitiam a solidez dos céus; mas a maior parte dos astrônomos declarava que era impossível conceber o maquinismo e o movimento dos astros, se os céus não fossem formados duma substância dura, sólida e eterna. Segundo conta Plutarco [12], pensavam os físicos antigos que os aerólitos eram pedaços destacados da abóbada celeste e que, subtraídos à força centrífuga, caíam sobre a Terra em conseqüência do próprio peso.”
Pelo sistema exposto – considerando a Terra como centro do universo –, Tétis explica a Vasco da Gama a estrutura do mundo (Canto X), apontando-lhe primeiro o Empíreo (est. 79), o céu imóvel onde residem as almas dos bem-aventurados. E do mesmo modo descreve o zodíaco com as suas doze constelações figuradas por animais – que se imaginou serem as doze estâncias do Sol, cujo caminho aparente sobre o céu estrelado é percorrido durante o chamado “ano sideral” (isto é: 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 9 segundos), voltando à posição anterior, com referência às estrelas, no fim desse intervalo.
Deu-se o nome de zodíaco a uma faixa de 9 graus de largura, por cima e por baixo desse caminho aparente, dividida em doze signos de 30 graus cada um. Estes signos têm os mesmos nomes das constelações que ocupam essa faixa do céu, posto que não muito exatamente.
Foi cerca de 14 séculos antes da nossa era que os gregos dividiram o céu em constelações, cujos nomes latinos se contêm nos seguintes versos:
Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.
Estes nomes em português são: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. O poeta não só menciona as doze constelações do zodíaco, mas ainda outras muitas das mais notáveis, enumerando os planetas pela ordem em que se julgavam dispostos no céu estrelado – segundo o sistema de Ptolomeu, tendo-se referido também aos chamados excêntricos e epiciclos [13] – inventados pelos astrônomos para explicar o movimento das esferas. Estes excêntricos e epiciclos explica-os hoje [início do séc. XX] a ciência deste modo:
“Os movimentos aparentes dos planetas que observamos são resultantes da combinação da translação da Terra em volta do Sol com a translação dos planetas em volta do mesmo astro.
“Tomemos Júpiter para exemplo: este planeta circula em volta do Sol a uma distância cinco vezes maior do que a distância da Terra ao Sol. A sua órbita envolve portanto a nossa com um diâmetro cinco vezes maior, e leva doze anos esse mesmo planeta a efetuar a sua translação.
“Durante os doze anos que Júpiter emprega em fazer a sua revolução em torno do Sol, a Terra faz doze revoluções em torno do grande astro. Por conseqüência o movimento de Júpiter – visto daqui – não é um simples círculo seguido lentamente durante doze anos, mas uma combinação deste movimento com o da Terra. Dê-se o leitor ao incômodo de traçar a seguinte figura: um ponto representando o Sol – um pequeno círculo em volta a dois centímetros de distância representando a órbita da Terra – e um segundo círculo – a dez centímetros – representando a órbita de Júpiter; facilmente reconhecerá que, girando em volta do Sol, produzimos um deslocamento aparente de Júpiter sobre a esfera estrelada em que ele se projeta. Este deslocamento dá-se, à metade do ano, em um sentido, e, à metade do ano, em outro. É como se a órbita de Júpiter fosse composta de doze anéis. Para dar conta do movimento aparente de Júpiter, os astrônomos antigos não tinham podido conservar por muito tempo o simples círculo: viam-se obrigados a fazer rodar sobre ele – no decurso de doze anos – o centro dum outro pequeno círculo, em cuja circunferência supunham o planeta encaixilhado. Deste modo, Júpiter não seguia diretamente o seu grande círculo: percorria o círculo pequeno que fazia doze giros no mesmo plano, rodando ao longo do círculo primitivo em um período de doze anos.
“Saturno em 30 anos faz o seu giro à volta do Sol. Para explicar as marchas e contramarchas aparentes vistas da Terra, tinha-se semelhantemente ajuntado à sua órbita um segundo círculo, cujo centro seguia esta órbita e cuja circunferência, levando encrostado o planeta, girava 30 vezes sobre si própria durante a revolução inteira.
“Estes segundos círculos receberam o nome de epiciclos.
“O de Marte era menor que os precedentes; os de Vênus e Mercúrio eram muito maiores.
“Eis uma primeira complicação do sistema circular primitivo. Mas não era só esta.
“Os planetas, visto que geralmente seguem elipses, estão em uns pontos do seu percurso mais perto do Sol do que em outros pontos. E, visto que todos os planetas – compreendendo a Terra – se movem em períodos diferentes à volta do Sol, o resultado é cada planeta estar ora mais próximo, ora mais afastado da própria Terra. Em certos pontos da sua órbita, Marte, por exemplo, chega a estar afastado de nós mais quatro vezes do que noutros pontos.
“Para dar conta destas variações de distância, os astrônomos modificaram os círculos primitivos. Como se pretendia conservar a figura circular, supôs-se que os círculos percorridos por cada planeta tinham por centro não precisamente o próprio globo terrestre, mas um ponto situado fora da Terra. Por este estratagema, Marte, por exemplo, descrevendo uma circunferência à roda dum centro situado ao lado da Terra, encontrava-se ora mais afastado, ora mais próximo dela. O centro real de cada órbita celeste não coincidia com o centro da Terra, senão por meio do subterfúgio do segundo centro móvel em torno do qual se efetuava essa órbita.
“Esta nova acomodação mecânica foi designada com o nome de ‘sistema dos excêntricos’.
“Estes epiciclos e estes excêntricos foram sucessivamente inventados, modificados e multiplicados conforme as necessidades do caso. À medida que as observações se tornavam mais exatas, era necessário acrescentar novos círculos para representar mais precisamente os movimentos celestes. Cada século acrescentava novo círculo e nova engrenagem ao mecanismo do universo, de modo que, no tempo de Copérnico – isto é, no começo do século XVI –, havia já deles número imenso, inextricáveis, emaranhados uns nos outros.
“Os astrônomos e os sábios oficiais da época dificilmente permitiam que se tocasse nesse edifício secular. Segundo Aristóteles e a sua escola, havia uma linha de demarcação natural que da Terra separava o Céu. A Terra, cercada pelos seus quatro elementos, era a sede das mudanças; o Céu, a partir do círculo da Lua, era incorruptível e imutável. Os movimentos celestes, guiados por leis que lhes eram próprias, não tinham relação alguma com as que governam a Terra. Traçada, deste modo, uma linha de demarcação entre a mecânica celeste e a mecânica terrestre, a filosofia colocava uma delas fora do campo das indagações experimentais e punha obstáculos a qualquer progresso da outra, estabelecendo princípios fundados sobre observações incompletas. Continuou por isso a astronomia, durante séculos, a ser uma ciência pura de tradições, em que a teoria não entrava senão no intento de conciliar as desigualdades dos movimentos celestes e uma pretendida lei de revolução circular e uniforme, que se considerava compatível com a perfeição do mecanismo celeste.
“Daí procedia o acervo (informe e contraditório) de movimentos hipotéticos do Sol, da Lua e dos planetas em círculos, que eram sucessivamente centros doutros círculos, até que finalmente – tornando-se mais exata a observação e multiplicando-se constantemente os epiciclos – tornou-se palpável o absurdo de sistema tão confuso.”
Expostas como ficam, sumariamente, as velhas teorias que serviram de base à descrição do universo feita pelo poeta no Canto X, é conveniente que também aqui se dê breve notícia das teorias modernas para as quais concorreu Copérnico [14], transformando o sistema de Ptolomeu, mudando a posição da Terra e demonstrando que o centro do universo é o Sol.
“Copérnico ainda manteve a esfericidade das órbitas celestes, a confusa engrenagem dos epiciclos e excêntricos e outras teorias que os sucessores do grande astrônomo foram modificando – ao ponto de engrandecerem e idealizarem o mundo pela maneira hoje conhecida. Quando se lêem os filósofos gregos – cujos conhecimentos científicos se podem apreciar, ainda que por maneira muito restrita –, causam notável impressão a sutileza que desenvolviam nas discussões, o êxito prodigioso dos raciocínios abstratos, a admirável sagacidade nos assuntos puramente intelectuais – todas estas qualidades formando contraste com a negligência e os poucos cuidados que prestavam ao estudo da natureza externa. Em certos casos, tiravam conclusões ilógicas de princípios de generalização fundados sobre fatos pouco numerosos e mal observados. Alguns desses filósofos prevaleciam-se com inconcebível leveza de princípios abstratos que não se referiam à natureza e dos quais, todavia, deduziam, como supostos axiomas matemáticos, todos os fenômenos e leis que os regem. Estavam, por exemplo, convencidos de que o círculo devia ser a figura mais perfeita, e daí concluíam naturalmente que as revoluções dos corpos celestes deviam fazer-se em círculos exatos e movimentos uniformes; se a observação estabelecia o contrário, não levantavam dúvidas sobre o princípio ou fundamento que haviam estabelecido. Longe disso: não cuidavam senão de salvar a sua perfeição ideal; e, para o conseguir, não havia espécie de combinações de movimentos circulares que eles não imaginassem.
“Nesta guerra de palavras, era desprezado o estudo da natureza, e considerava-se indigna dum sábio a paciente e modesta investigação dos fatos. O radical erro da filosofia grega foi imaginar que era aplicável à física o método que tão bons resultados dera nas matemáticas e que, partindo de noções simples quase evidentes, ou de axiomas, se podia resolver tudo. Por isso todos esses sábios que cultivavam a física andavam sempre ocupados em raciocinar ou desarrazoar sobre pretendidos princípios. Um considera o fogo como sendo a matéria essencial e a origem do Universo; outro adota o ar; um terceiro encontra a solução e a explicação de todos os fenômenos no “infinito”; um quarto vê-os no “ser” e “não ser”. Enfim, um filósofo, que havia de estabelecer opinião durante dois mil anos, decidia que a matéria, a forma e a privação deviam ser consideradas princípios de todas as causas.
“Esta maneira de perder o tempo em argumentos metafísicos, sob o pretexto de fazer ciência, durou nas escolas desde a Antiguidade até Copérnico, e retardou por muito tempo a supremacia das ciências exatas. A astronomia de observação progredia entre os árabes e na escola de Alexandria, mas o seu estudo tornava-se estéril, e sem a teoria era quase impossível atingir o alvo da ciência, o qual consiste em tornar conhecida a natureza. Reconhecemos contudo, para não sermos acusados de ingratidão com a Antiguidade e a Idade Média, que, se não houvesse os trabalhos antigos, não existiria a ciência moderna. Chega-se a grande, depois de se ser pequeno. Graças às observações e explicações antigas é que se pôde verificar a insuficiência das hipóteses e imaginar outras melhores.
“Foi nos séculos XV e XVI que se estabeleceu o método experimental, aparecendo sábios independentes, que se podem chamar precursores de Copérnico: George Peurbach (1423–1461), Jean Muller (1436–1476), Fracastori (1483–1553).
“Enquanto os astrônomos faziam os últimos esforços para explicar do melhor modo possível os movimentos celestes – sem se afastarem da velha hipótese da imobilidade da Terra –, o célebre Colombo descobria o Novo Mundo; e o globo terrestre desvendava-se por todos os lados às vistas da ciência aventurosa; o espírito humano, conhecendo, daí por diante, diretamente e por experiência, a esfericidade do globo e o seu isolamento no espaço, adquiria o elemento mais essencial para conceber o seu movimento.
“No ano imediato à morte do grande navegador, estava Copérnico tratando de destruir as idéias antigas sobre astronomia; e em 1543 publicava em Nuremberg a obra imortal, que mudou a face da astronomia, e cujo título era: Nicolai Copernici Torinensis, de Revolutionibus orbium celestium, libri VI.
“O sistema das aparências, a opinião da imobilidade do globo terrestre e do movimento do Céu, era ainda no século XVI – e ainda hoje é – a idéia simples e vaga que reina no espírito do povo ignorante.
“Refletindo nas condições mecânicas do sistema das aparências, Copérnico pensou que esse sistema, tão complicado e tão grosseiro, não podia ser divino nem natural, porque tudo na natureza é extremamente simples; e, depois de 30 anos de estudos, convenceu-se de que, atribuído à Terra duplo movimento – um, de rotação sobre si própria em 24 horas, e outro, de translação à volta do sol em 365 dias e um quarto –, se explicavam todos os movimentos celestes, para os quais se tinham inventado esses numerosos círculos de cristal.
“O sistema existente parecia estar de harmonia com a observação, mas era aparente essa harmonia. Para que o universo fosse constituído de tal maneira, seriam indispensáveis condições mecânicas que não existem: seria preciso, por exemplo, que a Terra fosse mais pesada que o Sol; que ela fosse o astro mais importante do sistema solar; que as estrelas não estivessem separadas de nós por tão prodigiosas distâncias. Reconheceu-se, pois, que os planetas não circulam em volta do globo terrestre, mas sim em companhia da própria Terra em volta do Sol (relativamente imóvel) – seguindo, no seu movimento, elipses e não círculos.”
Eis alguns dos pontos fundamentais do método de Copérnico e das suas demonstrações – em que todavia aparecem restos das antigas teorias:
“A Terra é esférica [15], porque a esfera é de todas as figuras a mais perfeita, e a que sob a mesma superfície circunscreve maior espaço em todos os sentidos.
“O Sol e a Lua são de forma esférica. É a forma que tomam naturalmente os corpos, como se vê nas gotas de água. Todos os corpos celestes têm forma esférica. Demonstra-se a esfericidade da Terra: um objeto visível ao longe na ponta do mastro dum navio que, visto da praia, parece descer à medida que o navio se afasta: prova-se também pelos eclipses da Lua, na qual se vê a sombra redonda da Terra.
“Qual é a posição da Terra no Universo? Quase todos os autores estão de acordo em supor que a Terra é imóvel; parece-lhes até ridícula a opinião contrária. Examine-se atentamente o caso. Qualquer deslocação observada procede, ou do movimento do objeto observado, ou do observador, ou do movimento simultâneo de ambos; porque, se os dois movimentos forem iguais, não haverá meio de os perceber. Ora, é da parte de cima da Terra que observamos o Céu. Se a Terra se move, parecer-nos-á que o Céu se move em sentido contrário, transportado de Oriente para Ocidente em cerca de 24 horas. Deixai o Céu em repouso e dai movimento à Terra, mas do Ocidente para Oriente: tereis as mesmas aparências exatamente.
“Sendo imensa a esfera celeste, como se pode conceber que ela gire em 24 horas? Não é mais natural atribuir este movimento à Terra, e só à Terra? Quando a Terra gira, tudo que está no Céu nos parece girar; mas as nuvens e tudo que está no ar participam do movimento dela.
“Se todos os astros girassem em volta da Terra, o que sucederia?
“O astro mais próximo de nós (a Lua) está a 96.000 léguas da Terra. Ser-lhe-ia, portanto, necessário percorrer em 24 horas uma circunferência de 192.000 léguas de diâmetro, isto é, 603.000 léguas de extensão; teria, por isso, de correr com uma velocidade de 25.125 léguas por hora, ou 400 léguas por minuto, ou 7 léguas por segundo… Mas isto é o de menos.
“O Sol – a 37 milhões de léguas de nós – teria de percorrer no mesmo intervalo de 24 horas uma circunferência de 232 milhões de léguas em volta da Terra; ser-lhe-ia preciso voar com uma velocidade de 9.680.000 léguas por hora e 161.300 léguas por minuto, ou 2.690 léguas por segundo!
“Os planetas Marte, Júpiter e Saturno, mais longe da Terra do que o Sol – que participam igualmente do movimento diurno –, seriam levados no espaço com uma rapidez ainda mais inconcebível. O último planeta conhecido dos antigos – Saturno –, nove vezes e meia mais afastado de nós do que o Sol, seria obrigado, para em 24 horas dar a volta em roda da Terra, a descrever uma circunferência de dois bilhões de léguas de extensão e a queimar o espaço com uma rapidez de mais de 20 mil léguas por segundo.
“E as estrelas? A imaginação assusta-se com a rapidez que seria necessário supor a esse movimento se elas dessem a volta da Terra em 24 horas. Saturno está distante de nós 218.431 semidiâmetros do globo terrestre. Ora, as estrelas estão para lá do orbe de Saturno. Sabe-se que a estrela mais próxima de nós está à distância de 275.000 vezes a distância da Terra ao Sol, isto é, dez trilhões de léguas. Essa estrela – o alfa de Centauro – deveria percorrer, no intervalo de 24 horas, uma circunferência de 63 trilhões de léguas em extensão, e a sua velocidade seria de 2.666 bilhões de léguas por hora, 44.400 milhões por minuto – em suma, 740 milhões de léguas por segundo.
“Havendo vários centros, não é crível que o centro do mundo seja o da Terra e da gravidade terrestre. A gravidade não é mais do que a tendência natural dada pelo Criador a todas as partes do mundo, e que as leva a reunirem-se e a formarem globos. Esta força deu ao Sol, à Lua e aos outros planetas a forma esférica, o que não obsta a que executem revoluções diversas. Se a Terra, portanto, tem movimento em volta dum centro, esse movimento será semelhante àquele que percebemos nos outros corpos – teremos um circuito anual. O movimento do Sol será substituído pelo movimento da Terra. Tornado imóvel o Sol, realizar-se-ão do mesmo modo o nascimento e o ocaso dos astros; as estações e as retrogradações serão resultado do movimento da Terra; o Sol será o centro do mundo. É a ordem natural de tudo que sucede, é o que ensina a harmonia do mundo – e que é forçoso admitir.
“A esfera superior a todas é a das estrelas fixas – esfera imóvel que abraça o conjunto do Universo. Seguem-se entre os planetas errantes primeiramente Saturno, que precisa de 30 anos para fazer a sua revolução; depois Júpiter, que faz o caminho em doze anos; segue-se Marte, que precisa de dois anos. Na quarta linha encontram-se a Terra e a Lua, que – no espaço de um ano – chegam ao seu ponto de partida. O quinto lugar é ocupado por Vênus, que precisa de nove meses para o seu caminho; Mercúrio ocupa o sexto lugar, e precisa apenas de 24 dias para descrever a sua órbita. No meio de todos, reside o Sol. Qual é o homem que, em templo tão majestoso, poderia escolher outro e melhor lugar para o brilhante astro que ilumina todos os planetas e os seus satélites? Não é sem razão que o Sol se chama a luz do mundo, a alma e o pensamento do universo. Colocando-o no centro dos planetas, como sobre um trono real, entregamos-lhe o governo da grande família dos corpos celestes.”
Em seguida se encontra a figura deste sistema, copiada de um fac-símile da mão de Copérnico:
Breve notícia dos sábios astrônomos que sucederam a Copérnico, confirmando constantemente o seu sistema e concorrendo para os progressos da astronomia moderna, constitui completa explicação dos motivos que induziram Camões a explicar a contextura do Universo segundo o sistema de Ptolomeu. Se doutro modo procedesse, a censura inquisitorial não permitiria a publicação do poema, e levaria talvez a severidade ao ponto de encarcerar o poeta.
A teoria de Copérnico – a do movimento da Terra em volta do Sol, sendo este astro o centro do Universo – continuou a ser tida por absurda, ridícula e inadmissível. Dois anos depois da morte do venerável renovador do mundo, celebrava-se o Concílio ecumênico de Trento (1545), que estabeleceu como fundamental artigo de fé a imobilidade da Terra no centro do mundo. Tycho Brahe (1546–1601), notável astrônomo, tinha exaltada admiração pelo talento de Copérnico, mas deixou-se arrastar naturalmente por escrúpulos religiosos, não admitindo o novo sistema senão corrigido.
Kepler (alemão) e Galileu (italiano), professor de astronomia em Pisa, dois sábios eminentes da sua época (fins do século XVI e princípios do século XVII), defendendo a doutrina de Copérnico, foram dela os primeiros propagandistas. Galileu, escrevendo a Kepler, dizia-lhe: “Copérnico era digno duma glória imortal, e foi tido por insensato!” Kepler respondia-lhe que lhe comunicasse os seus escritos, pois talvez pudesse publicá-los na Alemanha, visto a Itália pôr obstáculo às suas publicações.
Galileu (1610), dirigindo para a Lua as lunetas astronômicas pouco antes inventadas, descobriu que o vizinho astro era uma terra como a nossa, coberta de montanhas e vales; dirigindo-as para o Sol, verificou a existência de manchas na sua superfície e a rotação dele de Oeste para Leste. Esta rotação do astro do dia apresentava um testemunho de alta presunção em favor de movimento de translação dos planetas e da Terra em volta do Sol no mesmo sentido. Voltando a luneta para Júpiter, o ilustre astrônomo descobriu que esse imenso planeta é acompanhado de quatro luas ou satélites, que o seguem no seu curso do mesmo modo que a Lua acompanha a Terra: este pequeno sistema representava em miniatura o sistema planetário todo inteiro. Assim se acumulavam, como por encanto, os testemunhos favoráveis a Copérnico. O mais palpável e mais significativo de todos foi ver-se que se realizava no campo do óculo a profecia que 60 anos antes tinha feito Copérnico perante os seus detratores. Diziam-lhe estes:
— Se o Sol estivesse realmente no centro do sistema planetário, e se Mercúrio e Vênus girassem em torno dele numa órbita interior à da Terra, esses dois planetas deviam ter fases; Vênus, quando estivesse do lado de cá do Sol, devia estar em crescente como se fosse a Lua; e, quando formasse ângulo reto com o Sol e a Terra, devia apresentar-se com o aspecto de quarto crescente. Ora, isso é que nunca se viu.
— Essa é a realidade, respondeu Copérnico, e é o que os homens hão de ver um dia, se acharem meio de aperfeiçoar a vista.
Por isso Galileu [16] exclamou, entusiasmado, quando com a lente descobriu as fases de Vênus:
— Ó, Nicolau Copérnico! Que felicidade seria a tua, se tivesses podido gozar estas novas observações, que tão plenamente confirmam as tuas idéias.
Até então, a nova doutrina não tinha sido objeto de perseguição direta. Mas quando tomou corpo, e pareceu impor-se para substituir os princípios ensinados desde séculos, ligaram-se os sábios oficiais de comum acordo – alguns de boa-fé, outros por interesse ou ciúme – para impedir que triunfasse a novidade. Os teólogos decidiram unanimemente que era contrária às Escrituras. A Congregação do Index, estabelecida para manter a fé católica, foi incumbida pelo Papa de estudar a questão sob o ponto de vista dogmático. Em 1616, publicou essa Congregação um decreto declarando que a nova teoria do movimento da Terra era contrária às Escrituras, e que seria considerado herege quem a sustentasse, proibindo que ela fosse ensinada em qualquer país cristão, e interditando a obra de Copérnico até ser corrigida.
Quatro anos depois, a mesma Congregação indicou as alterações que se deviam fazer na obra de Copérnico: as mais importantes eram intercalar a palavra hipótese em todos os lugares em que o autor expunha a teoria do movimento da Terra e apagar a palavra astro em todos os lugares onde estivesse aplicada à Terra.
Todos sabem que Galileu foi condenado à prisão perpétua por não ter obedecido às proibições da autoridade eclesiástica e que morreu em 1642, depois de ter confirmado com provas indestrutíveis a teoria de Copérnico.
As sentenças eclesiásticas contra a crença do movimento da Terra, no século XVII, foram revogadas pelo Papa Bento XI [17], e hoje a Igreja Católica admite o verdadeiro sistema do mundo.
Kepler (1571–1630) declarou-se, ao mesmo tempo que Galileu, em favor de Copérnico, e na Alemanha publicou – com mais liberdade do que o seu êmulo em Itália – trabalhos profundos que concorreram para radicar, em bases inabaláveis, a teoria discutida do movimento da Terra e imobilidade relativa do Sol no centro das órbitas planetárias. Dos trabalhos de Kepler, resultou saber-se que os astros, no seu curso, não descrevem círculos mas elipses; e foi ele que estabeleceu, além de outras, duas leis imortais, que completaram a obra de Copérnico: 1) que os planetas se movem seguindo elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos; 2) que os quadrados dos tempos das revoluções planetárias são proporcionais aos cubos dos eixos maiores das órbitas (os cubos das distâncias) – leis cuja aplicação se resolve por meio de problemas de geometria.
Estas descobertas expurgaram do sistema de Copérnico os círculos excêntricos e os epiciclos, que o embaraçavam ainda, e que tinham ficado como herança orgânica do antigo sistema.
Copérnico foi o fundador, o pai espiritual da astronomia moderna; e esta foi sendo aperfeiçoada por Tycho Brahe (1546–1601), Francis Bacon (1561–1626), Newton (1642–1727), Kepler (1571–1630), Galileu (1564–1642), Herschel (1732–1822), Halley (1656–1742), e muitos outros de todas as nações.
“A obra capital de Newton foi demonstrar que a causa da suspensão da Terra e de todos os astros, no espaço, é uma força determinada – calculável –, cuja intensidade diminui na razão inversa do quadrado da distância; e que em virtude da qual os corpos celestes se atraem reciprocamente; e que se movem e se sustentam no equilíbrio duma rede invisível. A atração universal, a gravitação – demonstrou-o esse sábio – rege os mais ínfimos movimentos que se operam tanto à superfície do solo, como nas mais longínquas regiões acessíveis ao telescópio, sustentando os nossos passos e as nossas habitações, regendo a gota de chuva, o grão de pó levantado pelo vento, dirigindo a Lua em volta da Terra, esta em volta do Sol, e organizando os movimentos das estrelas.”
Em notas ao Canto X, acrescentam-se mais algumas breves noções de astronomia popular, para auxiliar a interpretação das estrofes 77 a 90, onde se descreve o sistema cosmográfico consagrado no tempo do poeta.
Notas:
[8] V. Prefácio do Editor, p. 14. [Nota do Editor]
[9] Estas citações e transcrições ou extratos e os que se seguem são principalmente da obra de Camille Flammarion, L’Astronomie et ses Fondateurs – Copernic et le Sistème du Monde.
[10] Todavia Aristóteles já conhecia opiniões opostas às que sustentava (Do Céu, II, 13, 1): “Os partidários chamados pitagóricos eram de parecer contrário. Pretendiam eles que o fogo estava no centro do mundo, que a Terra era um dos astros que fazem revolução em torno desse centro, a qual produzia o dia e a noite”.
[11] Séc. IV a.C.
[12] Séc. I d.C.
[13] “Em todos estes orbes, diferente curso verás” (X, 90).
[14] Nicolau Copérnico, ilustre fundador da astronomia moderna, nasceu em Thorm (Polônia) a 10 de fevereiro de 1473; era eslavo por parte dos ascendentes e pelo nascimento.
[15] Demonstrou-se mais tarde que é um esferóide, achatado nos pólos.
[16] Nasceu 21 anos depois da morte de Copérnico, mas foi o primeiro astrônomo que se declarou aberta e calorosamente em favor do novo sistema, por escrito – daí procede a sua glória.
[17] Na verdade, o Papa Bento XIV.
Curta nossa página no facebook Summa Mathematicae. Nossa página no Instagram.